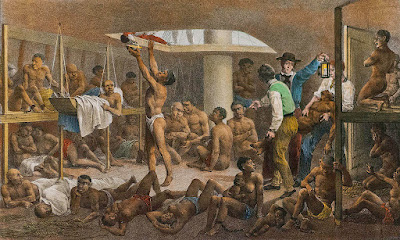A imigração japonesa para o Brasil começou em 1808, mas a maior parte chegou no decênio 1925-1935. Mudanças sociais, políticas e econômicas proporcionadas pela Era Meiji (1868-1912), associada à pequena disponibilidade de terras, foram as principais causas que levaram o governo japonês a incentivar a emigração. Entre essas causas, destacam-se o endividamento dos trabalhadores rurais, a modernização agrícola, a industrialização e a melhoria das condições sanitárias, que aumentaram a pressão demográfica no Japão.
Após longos 52 dias em alto mar, no dia 18 de junho de 1908, o primeiro grupo de imigrantes japoneses desembarcava no Porto de Santos. À bordo do navio Kasato Maru, que saíra de Kobe, em Osaka, o grupo era composto por 165 famílias de agricultores que buscavam melhores condições de vida nas prósperas fazendas de café do oeste paulista.
 |
| Navio Kasato Maru, que trouxe os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil |
Mais de três quartos dos imigrantes japoneses estabeleceram-se no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, os imigrantes japoneses fixaram-se principalmente nos bairros de Pinheiros e da Liberdade. Nas proximidades da capital, dedicaram-se ao cultivo de hortaliças; na região de Alta Paulista (Tupã, Bastos e Marília), trabalharam no cultivo do algodão; na porção paulista do Vale do Paraíba, desenvolveram a cultura do arroz; e no Vale do Ribeira (sul do estado de São Paulo), introduziram a produção de chá.
A Zona Bragantina, no Pará, também recebeu um número significativo de imigrantes japoneses. Nessa área, a leste de Belém, os japoneses dedicaram-se principalmente à produção de pimenta-do-reino.
 |
| Lista dos primeiros imigrantes japoneses que vieram para o Brasil |
Fatores que motivaram a imigração de japoneses para o Brasil
O Japão estava superpovoado no início do século XX. O país tinha ficado isolado do mundo durante os 265 anos do período Edo (Xogunato Tokugawa), sem guerras, epidemias trazidas do exterior ou emigração. Com as técnicas agrícolas da época, o Japão produzia apenas o alimento que consumia, sem formação de estoques para períodos difíceis. Qualquer quebra de safra agrícola causava fome generalizada.
O fim do Xogunato Togugawa deu espaço para um intenso projeto de modernização e abertura para o exterior durante a Era Meiji. Apesar da reforma agrária, a mecanização da agricultura desempregou milhares de camponeses. Outros milhares de pequenos camponeses ficaram endividados ou perderam suas terras por não poderem pagar os altos impostos, que, na Era Meiji, passaram a ser cobrados em dinheiro, enquanto antes eram cobrados com parte da produção.
No campo, os lavradores que não tinham tido suas terras confiscadas por falta de pagamento de impostos, mal conseguiam sustentar a família. Os camponeses sem terra foram para as principais cidades, que ficaram saturadas. As oportunidades de emprego tornaram-se cada vez mais raras, formando uma massa de trabalhadores miseráveis.
 |
| Matsuhito ou Meiji, O Grande (1862-1912) |
A política emigratória colocada em prática pelo governo japonês tinha como principal objetivo aliviar as tensões sociais devido à escassez de terras cultiváveis e endividamento dos trabalhadores rurais, permitindo assim a implementação de projetos de modernização.
Enquanto isso, o Brasil também passava por profundas mudanças. Com o fim do tráfico negreiro, em 1850, o preço de uma pessoa escravizada aumentou e os fazendeiros passaram a contratar mão de obra imigrante europeia para suprir a falta de escravos.
Assim, percebemos que o estímulo para trazer imigrantes ao Brasil se deu por conta do preconceito racial. Os donos dos cafezais preferiam pagar um estrangeiro branco a um trabalhador negro que já sabia realizar a tarefa.
Com o advento da República, esta política de eliminação do africano se intensificou. Em 5 de outubro de 1892, foi aprovada a Lei nº 97 que permitia a imigração de japoneses e chineses ao Brasil.
A partir da década de 1880, o Japão incentivou a emigração de seus habitantes por meio de contrato com outros governos. Antes do Brasil, já havia emigração de japoneses para os Estados Unidos (principalmente para o Havaí), Peru e México. No início do século XX, também houve grandes fluxos de emigração japonesa para os territórios recém-conquistados da Coreia e de Taiwan. Praticamente todos os imigrantes que formaram grandes colônias na Coreia e Taiwan retornaram ao Japão após a Segunda Guerra Mundial.
Em abril de 1905, chegou ao Brasil o Ministro Fukashi Sugimura, que visitou diversas localidades no Brasil, sendo bem recebido tanto pelas autoridades locais como pelo povo. O relatório produzido por Sugimura, onde foi descrito a receptividade dos brasileiros, aumentou o interesse do Japão pelo Brasil. Influenciados por este relatório e também pelas palestras proferidas pelo secretário Kumaichi Horiguchi, começaram a surgir japoneses decididos a viajar individualmente para o Brasil.
 |
| Cartaz de propaganda da imigração de japoneses para o Brasil e Peru |
Chegada dos imigrantes japoneses
Em 1908, o navio "Kasato Maru" aportou no Porto de Santos, em São Paulo, trazendo 781 japoneses. Não era permitida a vinda de solteiros, somente casados e com filhos. Os imigrantes japoneses assinavam contrato de trabalho de 3, 5 e 7 anos com os proprietários das fazendas e, em caso de descumprimento, deveriam pagar pesadas multas.
Sem falar o idioma e sem nenhuma infraestrutura preparada para recebê-los, os imigrantes japoneses se deram conta de que haviam sido enganados. À medida que os contratos iam terminando, muitos abandonavam as fazendas de café. Já quem não queria esperar, fugiam para as cidades grandes e para outros estados, como Minas Gerais e Paraná, onde as terras tinham um preço mais acessível.
Com paciência e determinação, os japoneses conseguiram cultivar lavouras no campo ou abrir negócios na cidade e estabilizar sua vida. Calcula-se que cerca de 190 mil japoneses vieram para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial.
 |
| Imigrantes japoneses indo para a colheita de café na década de 1930 |
Imigração japonesa na Segunda Guerra Mundial
Durante a década de 1940, o cenário mudou. O Brasil passou a apoiar os Estados Unidos e a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), enquanto o Japão lutava ao lado da Alemanha e da Itália. Quando o Brasil declarou guerra aos países do Eixo, em 1942, uma série de leis prejudicou as comunidades japonesas, como o fechamento de escolas, associações, clubes esportivos e o uso de símbolos nacionais nipônicos. Além disso, eles tiveram suas vendas prejudicadas, ficaram proibidos de se reunirem e vários imigrantes tiveram suas propriedades e bens confiscados.
Nas assembleias estaduais se discutia a proibição da vinda do "elemento amarelo" para o país, pois este representaria um perigo para a sociedade.
Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os imigrantes voltaram a receber as cartas de seus parentes que estavam no Japão e relatavam as dificuldades do país após a guerra. Para a maioria quase absoluta das famílias estabelecidas no Brasil, era o fim do sonho de retornar ao Japão. Os imigrantes se convenceram, então, da necessidade de preparar os filhos para ascender na sociedade brasileira. Para isso, boa parte dos nipo-brasileiros foram do campo para a cidade.
 |
| Família de imigrantes japoneses |
O forte antiniponismo continuou no Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Nesta época, surgiu a Shindo Renmei, uma organização terrorista formada por nipo-brasileiros que assassinava os nipo-brasileiros que acreditavam na derrota japonesa. Os assassinatos cometidos pela Shindo Renmei e o sentimento antinipônico da época, causaram vários conflitos violentos entre brasileiros e nipo-brasileiros.
Por causa de alguns acontecimentos ocorridos após o assassinato do caminhoneiro Pascoal de Oliveira, pelo caminhoneiro japonês Kababe Massame, após uma discussão, em julho de 1946, a população de Osvaldo Cruz, interior de São Paulo, que já estava irritada com os dois assassinatos da Shindo Renmei na cidade, saiu às ruas e invadiu casas disposta a maltratar os japoneses. O linchamento dos japoneses só foi totalmente controlado com a intervenção de um destacamento do Exército, vindo de Tupã.
A partir dos anos 1980, ocorreu uma inversão do fluxo migratório entre o Brasil e o Japão. Os nipo-descendentes e seus cônjuges, com ou sem ascendência japonesa, e seus filhos mestiços ou não, passaram a emigrar para o Japão à procura de melhores oportunidades de trabalho. Estes emigrantes brasileiros são conhecidos como dekasseguis.
 |
| Imigrantes japoneses cuidando da plantação de café |
Influência cultural japonesa no Brasil
Uma das contribuições da colônia japonesa no desenvolvimento brasileiro é o campo das artes plásticas, onde a arte dos nipo-brasileiros chega a ser denominada "escola nipo-brasileira". A constância dos nipo-brasileiros em participar dos salões, exposições e eventos foi decisivo para chamar a atenção e manter contatos entre os artistas.
No final da década de 1970, os nipo-brasileiros tinham uma situação diferente no que se diz em matéria de interação, situação contrária se comparada aos tempos da Segunda Guerra Mundial, quando eram vistos com desconfiança pela população e pelo governo.
O Bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, representa um exemplo da influência japonesa no Brasil, com vários pórticos vermelhos de templos xintoístas. Restaurantes de yakisoba, sushi e sashimi, estabelecimentos de karaokê e supermercados nos quais se pode comprar o natto e vários tipos de molho de soja. Até mesmo o drinque brasileiro mais famoso, a caipirinha, ganhou uma versão japonesa com saquê: a sakerinha.
 |
| Típicos postes de iluminação com luminárias japonesas instaladas nas ruas do Bairro da Liberdade, em São Paulo - SP |
Os imigrantes japoneses aperfeiçoaram as técnicas agrícolas e de pesca dos brasileiros. Ajudaram na difusão de técnicas de produção de alimentos através da hidroponia e da plasticultura. É notável o seu trabalho na aclimatação ou desenvolvimento de vários tipos de frutas e vegetais antes desconhecidos no Brasil, no qual os japoneses trouxeram mais de 50 tipos de alimentos, entre os quais o caqui, a maçã-fuji, a mexerica-poncã e o morango. Como consequência, os estados que receberam os imigrantes tiveram um aumento na renda e elevação do PIB. Com a oferta de novos alimentos, eles mudaram os hábitos alimentares dos brasileiros, introduzindo vários produtos que não faziam parte da dieta nacional.
Além das novas tecnologias na área agrícola desenvolvida pelos imigrantes japoneses, outra característica dos agricultores nipo-brasileiros foi a do cooperativismo. Graças ao modo de produção desenvolvido pelos imigrantes, foram instalados cinturões verdes próximos aos principais centros urbanos, garantindo autossuficiência em verduras, legumes, frutas e produtos animais, como ovos e frangos. A mentalidade associativista, deu origem às grandes cooperativas agropecuárias que serviram de modelo para várias iniciativas de organização do mercado. Outra contribuição trazida pelos agricultores japoneses foi a técnica inovadora da agricultura intensiva, resultado de técnicas de plantio desenvolvidas no Japão, já que esse país, devido à falta de espaço, produzia-se grande quantidade em áreas pequenas, diferentemente do que era produzido no Brasil, que tinha como base a produção em latifúndios.
 |
| Armazém japonês em São Paulo, em 1940 |
A fruticultura, anteriormente restrita às propriedades próximas aos centros consumidores, com a influência dos imigrantes, expandiu-se para as diferentes cidades do interior do estado de São Paulo e outros estados brasileiros, havendo o emprego das mais avançadas tecnologias.
Pelo fato de o Brasil ser um país tropical, técnicos e agrônomos brasileiros não acreditavam que fosse possível produzir maçã no território brasileiro, sendo que o país importava a fruta da Argentina, até que o agrônomo japonês Kenshi Ushirozawa demonstrou ser possível produzir maçã em Santa Catarina com qualidade superior à importada do país vizinho. Com base na experiência catarinense, a Cooperativa Agrícola de Cotia (localizada em Cotia - SP e fundada por imigrantes japoneses em 1927), organizou a implantou um assentamento de produtores rurais no município de São Joaquim (SC), onde seus associados passaram a produzir maçãs, principalmente na variedade fuji, que logo substituíram as maçãs importadas na década de 1980. Até a década de 1970, a maior parte do melão consumido no Brasil era importado da Espanha e do Chile, mas isso mudou na década de 1980, quando as importações foram substituídas pelos melões produzidos em território brasileiro, principalmente por agricultores descendentes de imigrantes japoneses.
Vale destacar também a introdução da pimenta-do-reino na região de Tomé-Açu, no Pará, que viria a ser chamado de "diamante negro" da Amazônia. Através dos imigrantes japoneses, Tomé-Açu tornou-se o maior produtor mundial de pimenta-do-reino.
 |
| Imigrantes japoneses no Pará, na década de 1920 |
Os imigrantes japoneses também inovaram nas atividades pesqueiras desenvolvidas no Brasil, com a introdução de novas técnicas e conhecimentos de navegação, que resultaram no aumento da produção. Uma delas foi a introdução de embarcações construídas com base nas que eram utilizadas no Japão. Outra mudança foi com relação às redes de pesca, pois na época eram utilizadas no Brasil redes de algodão, que se deterioravam rapidamente. Os imigrantes banhavam as redes na água onde ferviam cascas de plantas de mangue, o que aumentava sua resistência. Outra inovação foi a montagem de aparatos para pendurar as redes, permitindo a visualização do formato e do caimento, como se estivesse no mar e, assim, eles percebiam a necessidade de eventuais reparos e a adequação do formato da malha.
Outra introdução implementada pelos japoneses foram as boias de vidro para a flutuação e as portas de ferro para abrir a rede, desenvolvimento tecnológico que propiciou o aumento da produtividade.
 |
| Escultura em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa, em Santos - SP |